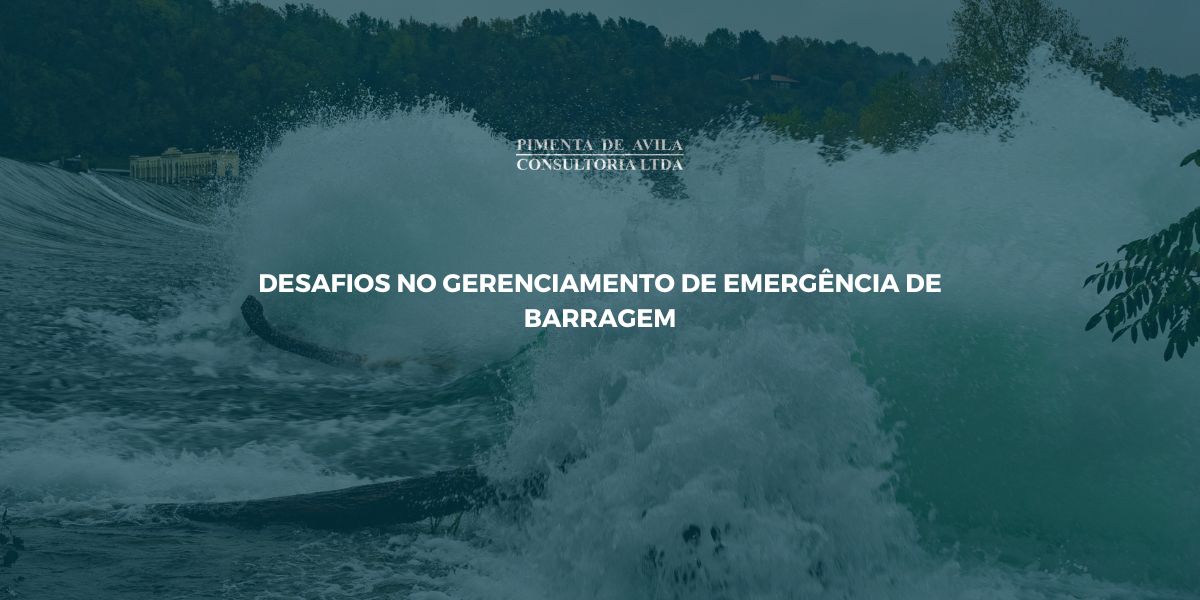Maíra REIS
Engenheira Ambiental/Geotécnica – Pimenta de Ávila Consultoria
Giani ARAGÃO
Engenheira Ambiental/Geotécnica – Pimenta de Ávila Consultoria
Isabela RIBEIRO
Engenheira Ambiental – Pimenta de Ávila Consultoria
Luan COSTA
Engenheiro Ambiental – Pimenta de Ávila Consultoria
Carine LIMA
Engenheira Ambiental – Pimenta de Ávila Consultoria
RESUMO
A gestão de emergência de barragens é um dos desafios mais complexos, exigindo planejamento detalhado e articulação eficiente com o poder público. O artigo 12 da Lei n° 12.334/2010, alterada pela Lei n° 14.066/2020, estabelece a necessidade de definir diretrizes fundamentais para a resposta às falhas, determinando medidas específicas para minimizar impactos humanos, ambientais e sociais.
Entre essas medidas, destacam-se a evacuação e o resgate de pessoas e animais, a mitigação de impactos ambientais, a garantia do abastecimento de água potável e a salvaguarda do patrimônio cultural. A implementação dessas ações exige não apenas um plano de resposta bem estruturado, mas também integração entre diferentes agentes e órgãos, treinamento contínuo, como também, infraestrutura adequada para atuar com rapidez e eficiência.
Diante desse cenário desafiador, faz-se necessário o diálogo frequente e a capacitação. A articulação entre setor privado, governo e sociedade é indispensável para garantir que, em caso de um evento extremo que envolve ruptura de uma barragem, a resposta seja coordenada, eficiente e capaz de preservar vidas, o meio ambiente e a identidade cultural das regiões impactadas.
ABSTRACT
Lorem Dam emergency management is one of the most complex challenges, requiring detailed planning and effective coordination with public authorities
Article 12 of Law 12.334/2010, changed by Law 14.066/2020, establishes the need to define fundamental guidelines for responding to failures, determining specific measures to minimize human, environmental, and social impacts.
Among these measures, key aspects include the evacuation and rescue of people and animals, mitigation of environmental impacts, ensuring the supply of potable water, and safeguarding cultural heritage. Implementing these actions requires not only a well-structured response plan but also integration between different agencies and organizations, continuous training, and adequate infrastructure to act readily and efficiently.
Given this challenging scenario, continuous dialogue and capacity-building are essential. The coordination between the private sector, government, and society is crucial to ensuring that, in the event of an extreme incident involving a dam failure, the response is coordinated, effective, and capable of preserving lives, the environment, and the cultural identity of affected regions.
1 – INTRODUÇÃO
A gestão de emergência em barragens é, atualmente, um dos aspectos mais sensíveis e desafiadores. Não se trata apenas de uma obrigação legal, mas de uma responsabilidade social de extrema relevância, que envolve a proteção da vida humana, do meio ambiente e do patrimônio público e privado. A complexidade desse tema exige um planejamento técnico detalhado, ações coordenadas e uma articulação eficiente entre diversos agentes, como empresas, prefeituras, órgãos ambientais, defesa civil, forças de segurança, entre outros.
A Lei nº 14.066/2020, que atualiza o marco regulatório da segurança de barragens no Brasil (Lei n° 12.334/2010 – Política Nacional de Segurança de Barragens – PNSB), reforça esse compromisso ao determinar, em seu artigo 12, a necessidade de definição de diretrizes claras para resposta à emergência.
A implementação dessas ações, no entanto, vai muito além da elaboração de um documento físico. Requer integração entre órgãos públicos e privados, capacitação técnica contínua, infraestrutura de resposta rápida e, principalmente, uma comunicação eficaz com as comunidades potencialmente afetadas. A realidade mostra que, sem um sistema de gestão de emergência bem estruturado, não há como garantir respostas eficazes diante de uma eventual falha.
Neste contexto, discutir os desafios e soluções para o gerenciamento da emergência em barragens é essencial para evoluir não apenas as conformidades regulatórias, mas a maturidade institucional, prevenção e proteção da vida.
2 – IMPLICAÇÕES EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS LEGAIS
O artigo 12 da Lei nº 12.334/2010, alterada pela Lei n° 14.066/2020, trouxe avanços importantes ao estabelecer a necessidade de definições de medidas específicas para resposta à emergência em barragens, com o objetivo claro de minimizar impactos humanos, ambientais e sociais. Entre as ações previstas, estão o resgate de pessoas e animais, a mitigação de impactos ambientais, a garantia do abastecimento de água potável e a salvaguarda do patrimônio cultural.
Embora a legislação reconheça a importância da articulação com o poder público, especialmente com as Defesas Civis, não estabelece diretrizes claras de como essa articulação deve ocorrer. A ausência de parâmetros, fluxos e responsabilidades gera uma série de implicações e incertezas operacionais para os empreendedores e para os próprios órgãos públicos.
Na prática, muitos municípios brasileiros ainda não contam com uma estrutura de Defesa Civil técnica e permanente. Em vários casos, o órgão local é estruturado a partir de cargos de confiança, agentes que não contam com formação específica ou conhecimento aprofundado sobre os deveres atribuídos. Além disso, o número de profissionais é frequentemente insuficiente para atender à complexidade do planejamento e da resposta a uma emergência envolvendo barragens.
Diante desse cenário, surgem questões fundamentais: Como será cobrado o cumprimento dessa exigência legal pelo empreendedor, se o agente público responsável pela resposta possui carências? E mais: como garantir que as ações previstas sejam efetivamente implementadas e de fato irão funcionar?
Essas incertezas colocam os empreendedores em uma posição de alta responsabilidade, mas com limitações reais de ação. A legislação impõe a obrigação de articulação, mas, na ausência de diretrizes práticas e de uma rede institucional robusta, o risco de responsabilização indevida ou de fragilidade na resposta a emergências torna-se elevado.
Para transformar essa exigência legal em uma realidade concreta, será necessário um esforço conjunto entre União, estados, municípios e setor privado. O que demanda:
- Fortalecimento e profissionalização das Defesas Civis municipais;
- Criação de protocolos nacionais padronizados para articulação entre empreendedores e poder público;
- Investimentos em capacitação contínua e infraestrutura de resposta;
- Promoção de simulados integrados e revisão periódica dos Planos de Ação de Emergência (PAE) com a participação real dos órgãos competentes.
Dessa forma, o artigo 12 aponta para onde deve-se caminhar, mas ainda falta a orientação. E, até que haja clareza, cabe ao empreendedor buscar, de maneira proativa, construir pontes com os atores públicos locais, mesmo diante de fragilidades institucionais, visando contribuir para que a gestão de emergência evolua além do papel.
3 – DESAFIOS E OPORTUNIDADES NA GESTÃO DA EMERGÊNCIA
Como dito, a partir da atualização da PNSB, ficou estabelecida a obrigatoriedade de definição de medidas destinadas à salvaguarda da vida humana e animal, do meio ambiente, do abastecimento público de água potável e do patrimônio cultural localizados em áreas potencialmente impactadas por emergência em barragens. A ausência de definição quanto às diretrizes técnicas detalhadas a serem consideradas para a formulação dessas medidas, impõe desafios significativos à sua implementação. A seguir, são descritas algumas das principais dificuldades identificadas no planejamento das medidas voltadas ao gerenciamento de emergências de barragens.
3.1 Resgate de pessoas e animais
Em consonância com o estabelecido em Planos de Ação de Emergência, diante de uma emergência de barragem, a primeira ação a ser providenciada visando a salvaguarda de pessoas e animais, corresponde ao acionamento do sistema de notificação e alerta. Esta providência tem como finalidade dar início ao processo de evacuação dos indivíduos presentes na Zona de Autossalvamento (ZAS), por meio das rotas de fuga e em direção aos pontos de encontro, previamente definidos. A manutenção dos elementos de autoproteção na ZAS, bem como a notificação à população potencialmente afetada em caso de emergência são responsabilidades do empreendedor de barragem. A partir da conclusão da autoevacuação, entretanto, as ações subsequentes não são detalhadas na legislação, tampouco há uma definição clara acerca das responsabilidades atribuídas ao empreendedor, já que no caso dos Órgãos de Proteção e Defesa Civil suas obrigações são estabelecidas por lei.
De forma geral, para definição dos esforços demandados para um socorro efetivo aos atingidos é necessário que a população e, na medida do possível, os animais, sejam quantificados e caracterizados. Neste contexto, emerge a primeira dificuldade identificada. Embora a PNSB exija a realização de levantamento cadastral e mapeamento atualizado da população residente na ZAS, na prática, essas informações dificilmente refletem com precisão a realidade da área. O assunto segurança de barragens ainda é visto com muita desconfiança por parte da população. Ainda que a experiência demonstre que o envolvimento de agentes públicos locais, como profissionais da defesa civil municipal, contribui para uma maior aderência das comunidades à atividade, atingir uma cobertura total é quase impossível. Dessa forma, o empreendedor acaba por desenvolver métodos próprios para estimar o número de pessoas e animais que não foram cadastrados. Uma vez que não há referência normativa para esta estimativa, tampouco à frequência de atualização do levantamento cadastral, cada empreendedor acaba optando por empregar procedimento particular, em função da sua realidade local.
A partir da chegada da população aos pontos de encontro é necessário que os agentes responsáveis pela primeira assistência também os acessem. Este é um outro desafio observado no planejamento das ações de gerenciamento da emergência. Tendo em vista a possibilidade de ocorrência, a jusante de barragens, de áreas remotas, com condições complexas de acesso e ocupação esparsa, o veículo mais adequado para o socorro, por exemplo, pode requerer demandas especiais, como por exemplo, tração ou até mesmo transporte aéreo. A lei não indica quem, em específico, empreendedor ou poder público, deve se responsabilizar por esta assistência. Entretanto, diante do potencial de indisponibilidade de veículos adequados tanto no que se refere ao empreendedor, quanto em relação aos agentes públicos municipais, é possível que nenhum destes agentes tenha capacidade para executar as ações demandadas. Logo, fica evidente a lacuna quanto à definição acerca de quem deve ser envolvido e sobre as responsabilidades a serem assumidas por cada um no processo.
Ainda no que tange às ações de socorro, vale destacar o desafio de definição do tamanho da equipe qualificada necessária. No Brasil, não existem diretrizes legais ou normas técnicas que determinem o dimensionamento das equipes de emergência para esse tipo de situação. Neste contexto, a capacidade dos agentes públicos municipais, englobando os Órgãos de Proteção e Defesa Civil, também deve ser considerada. Além das dificuldades estruturais observadas, é comum também a ocorrência de municípios que não dispõem de unidades do Corpo de Bombeiros. A dificuldade é agravada pela necessidade de inclusão de profissionais capacitados para o resgate e manejo de animais em cenários de desastre. Todas as variáveis indicadas somadas reforçam a importância da realização de treinamentos e simulados práticos periódicos, com a participação ativa dos órgãos envolvidos, a fim de aprimorar a prontidão operacional e esclarecer as atribuições de cada entidade durante a resposta a eventuais emergências em barragens. Não só isso, mas para identificar todas as dificuldades especificas de cada localidade.
Além do acesso aos pontos de encontro para a primeira assistência, é necessário prever a logística de transporte dos indivíduos evacuados a partir dos pontos de encontro. A estimativa da frota necessária, incluindo veículos adequados para o transporte de pessoas e animais, torna-se complexa, dado que o número de afetados pode não ter sido previsto com precisão e em função das dificuldades que poderão ser impostas ao transporte, como já elucidado. Ainda, é imprescindível planejar previamente as rotas de acesso alternativas, selecionando (no caso de transporte terrestre) vias não impactadas pela mancha de inundação (seguras) e, de preferência, em boas condições de tráfego, priorizando trajetos mais curtos até hospitais, abrigos e outros pontos de apoio.
Outro obstáculo frequente é a dificuldade de identificação de abrigos com capacidade e infraestrutura adequadas para receber o contingente de desalojados humanos e animais, especialmente em cenários de ruptura dos quais decorrem manchas de inundação de grande proporção. A definição da alternativa de abrigamento mais apropriada para a população, tanto humana, quanto animal, bem como a seleção dos locais com melhor infraestrutura, não corresponde a algo trivial. Se por um lado a ativação de abrigos temporários pode ser uma boa opção, uma vez que os esforços de gestão de desabrigados, fornecimento de suprimentos e de assistência são concentrados, a convivência entre as pessoas presentes neste local pode, com o passar do tempo, se tornar conturbada. Em um cenário de emergência a população afetada, certamente, encontrar-se-á vulnerável, sendo a gestão de locais de abrigamento temporário uma atividade de alta complexidade. Logo, a utilização da rede de hotelaria trata-se também de uma alternativa que merece avaliação.
É necessário considerar ainda que parte da população afetada pode demandar atendimento hospitalar especializado, o que implica em subsídio ao tratamento, aos medicamentos requeridos, à acomodação de acompanhantes, dentre outros. Por sua vez, em um contexto extremo, mesmo diante de todas as ações de resposta implementadas, ainda poderão ser observadas vítimas fatais. Também para estes cenários é importante que os agentes responsáveis pela resposta estejam preparados para atuação, por meio do fornecimento de subsídios que propiciem condições aos familiares visando amenizar a dor que sentem, bem como para facilitar processos burocráticos.
Por fim, após a fase inicial de resgate e assistência, é necessário estruturar ações para o restabelecimento da normalidade, incluindo a promoção de medidas de apoio psicossocial e socioeconômico para as populações atingidas, a reintegração de animais resgatados às suas famílias e o encaminhamento dos animais sem tutor para abrigos seguros e definitivos.
Se por um lado o empreendedor assume o risco de causar dano a partir do momento em que opera uma barragem, não podendo, portanto, se omitir em caso de falha, por outro, a responsabilidade de proteção e defesa civil da população (e dos animais, tendo em vista que muitos tutores se colocam em risco por seus animais de estimação) é, por lei, dos agentes públicos. A partir das responsabilidades indicadas e dos possíveis desdobramentos de uma eventual situação de emergência de barragem, ainda que não estivesse definido em lei, fica clara a necessidade de uma resposta articulada. Em complemento, a falta de detalhamento, confere caráter essencial a esta articulação, de forma que os agentes envolvidos possam estabelecer entre si as responsabilidades individuais, contribuindo para uma resposta eficiente. O treinamento assume também protagonismo neste processo, uma vez que permite a identificação de possíveis melhorias, proporcionando uma evolução no planejamento das ações de resposta.
3.2 Mitigação de impactos ambientais
A extensão das manchas de inundação representa um dos principais desafios à identificação dos potenciais danos ambientais, em caso de ruptura de barragem, que em um cenário ideal, seriam analisados a partir de diagnósticos especificamente realizados como subsídio a esta etapa. Porém, a prática atual tem contemplado a utilização de bases de dados obtidas por meio da realização de estudos ambientais anteriores (em geral, desatualizados), bem como a consulta a fontes secundárias de dados, como informações de base públicas, relatórios técnicos de órgãos ambientais e arquivos disponíveis em sites das administrações municipais. Cabe destacar, no entanto, que, em larga escala, a fragmentação, desatualização e inconsistência desses dados dificultam a análise, especialmente em regiões com dinâmicas territoriais complexas.
A análise comparativa dos bancos de dados públicos evidencia contrastes relevantes na qualidade e organização das informações, conforme a esfera governamental responsável pela gestão. Em âmbito federal, predominam sistemas padronizados, com diretrizes rígidas de armazenamento e metadados consistentes, garantindo alta integridade e confiabilidade para análises técnicas. Contudo, essa realidade se modifica substancialmente nas esferas estadual e, sobretudo, municipal, onde se observam lacunas críticas: ausência de protocolos unificados para catalogação, atualização de registros sem periodicidade definida e a disponibilização de plataformas contendo informações desconexas, que geram redundâncias e inconsistências.
Diante dessas lacunas, surge como uma estratégia alternativa e/ou complementar, a fotointerpretação de imagens aéreas, como aquelas disponibilizadas em base de mapas de softwares de Geographic Information System (GIS), bem como pelo Google Earth. Esse método também apresenta limitações, tais como a escassez de imagens atualizadas (para alguns casos), as divergências entre registros cadastrais (que, via de regra, podem ser inseridos nas plataformas por qualquer usuário), além da subjetividade intrínseca à técnica.
A partir da consolidação de informações sobre os potenciais impactos ambientais decorrentes de um cenário de ruptura de barragem, levanta-se o seguinte aspecto: Como se preparar para atuar diante de um cenário de dano que apenas se confirmará a partir da ocorrência? Qual o contingente deve ser preparado para atuação? Como equilibrar potenciais demandas com a capacidade, em geral limitada, dos agentes de resposta? Qual a frequência ideal de atualização da base de dados? Novamente, diante das lacunas em relação ao requisito legal, o início do trajeto passa pela articulação entre empreendedor e órgãos do poder público responsáveis pela resposta, atividade, a partir da qual, é possível definir responsabilidades individuais e identificar lacunas, contribuindo para uma atuação organizada e eficaz.
3.3 Garantia do abastecimento de água
A extensão das manchas de inundação representa um dos principais desafios à identificação dos potenciais danos ambientais, em caso de ruptura de barragem, que em um cenário ideal, seriam analisados a partir de diagnósticos especificamente realizados como subsídio a esta etapa. Porém, a prática atual tem contemplado a utilização de bases de dados obtidas por meio da realização de estudos ambientais anteriores (em geral, desatualizados), bem como a consulta a fontes secundárias de dados, como informações de base públicas, relatórios técnicos de órgãos ambientais e arquivos disponíveis em sites das administrações municipais. Cabe destacar, no entanto, que, em larga escala, a fragmentação, desatualização e inconsistência desses dados dificultam a análise, especialmente em regiões com dinâmicas territoriais complexas.
Em relação à garantia do abastecimento de água potável às áreas potencialmente impactadas por situações de emergência em barragens, de imediato, destacam-se dois desafios centrais: a escassez de bases de dados sobre infraestruturas possivelmente impactadas, combinada à desagregação dos dados de abastecimento hídrico em bases geridas pelos estados e municípios; a ausência de diretrizes legais a serem seguidas para análise dos possíveis danos e definição das medidas de resposta, conforme já mencionado.
A superação do primeiro desafio indicado requer que o empreendedor, ainda na etapa de levantamento dos possíveis locais impactados, estabeleça um relacionamento próximo junto aos atores envolvidos no fornecimento deste serviço essencial.
Muitas vezes os estados e municípios não possuem sistemas integrados e atualizados que centralizam informações. Segundo a Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC), realizada em 2023 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 71,4% dos municípios brasileiros possuem Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). No entanto, o acesso a esses documentos nem sempre é facilitado, sendo comum a indisponibilidade em plataformas públicas digitais, como os portais oficiais das prefeituras. Adicionalmente, muitos planos apresentam dados desatualizados.
Assim, o que se observa, em geral, é que bases públicas trazem informações detalhadas e mais assertivas no que se refere aos pontos de captação. Por sua vez, para conhecimento das especificidades das redes de abastecimento, a interação com as concessionárias prestadoras do serviço é fundamental.
A partir da consolidação da base de dados necessária para avaliação das informações em um cenário pós-evento, passa-se à etapa de planejamento das ações de resposta. Diferentemente do que se observa para os demais temas abordados, no Brasil, atualmente, é mais comum que empresas privadas sejam responsáveis pelo fornecimento de água potável à população. Se a articulação com agentes públicos é um desafio, a articulação com agentes privados, que não têm responsabilidade sobre os danos causados por uma ruptura de barragem de terceiro, é ainda mais complexa. Mesmo que haja articulação com a concessionária atual, é possível que diante da concessão a outra empresa, todas as atividades realizadas com o objetivo de resposta à emergência de barragem, sejam perdidas. Portanto, ressoa a dúvida sobre como o planejamento das ações de resposta será cobrado do empreendedor.
3.4 Salvaguarda do patrimônio cultural
A proteção do patrimônio cultural, em situações de emergência envolvendo barragens, configura-se como um aspecto fundamental para a preservação da identidade histórica e cultural das comunidades e população potencialmente afetadas.
A legislação brasileira, por meio da Constituição Federal de 1988 e de atos normativos, entre eles a PNSB, estabelece a obrigação de proteção aos bens de valor histórico, artístico e cultural. Todavia, estes instrumentos não abordam, de forma específica e detalhada, como promover a proteção do patrimônio cultural frente a desastres como a ruptura de barragens, não havendo orientações claras sobre responsabilidades, procedimentos, e critérios técnicos aplicáveis.
A exemplo do já levantado para os demais temas abordados neste artigo, uma das principais dificuldades práticas enfrentadas pelos empreendedores refere-se à identificação e mapeamento dos bens culturais localizados dentro da área potencialmente impactada pela mancha de inundação. Em geral, os cadastros oficiais e os inventários municipais de patrimônio possuem lacunas, seja pela ausência de atualização periódica, seja pela falta de abrangência sobre bens culturais imateriais ou sítios de relevância local não tombados formalmente. Além disso, alguns estados e municípios apresentam carência de dados públicos acessíveis sobre o patrimônio cultural protegido, o que dificulta a identificação de bens e a elaboração de estratégias de salvaguarda.
Ainda que a localização de bens culturais materiais seja conhecida, a definição de medidas de proteção adequadas diante de um evento de emergência apresenta desafios significativos. Bens culturais móveis, como mobiliário histórico, imagens sacras ou acervos museológicos, nem sempre podem ser evacuados de forma ágil, exigindo procedimentos específicos para remoção, transporte e armazenamento seguro. Bens imóveis, como casarões, igrejas e sítios arqueológicos, por sua vez, são vulneráveis à destruição parcial ou total, em função da força hidrodinâmica da frente de inundação.
Outro aspecto crítico é a ausência de protocolos padronizados que orientem a integração entre os responsáveis pelo patrimônio cultural, basicamente, os órgãos de preservação municipal, estadual e federal. A definição de estratégias conjuntas de proteção ou de salvamento emergencial ainda não é prática consolidada, o que dificulta a implementação de respostas eficazes em tempo hábil.
Em um cenário onde, ainda que a articulação entre empreendedor e agentes públicos seja eficiente, são verificados desafios que precisam ser, de forma prévia, institucionalmente superados, novamente vem à tona o questionamento sobre como o planejamento da resposta será exigido do empreendedor.
4 – CONCLUSÕES
Retoma-se, neste ponto, as perguntas chave já apresentadas neste artigo: Como será cobrado o cumprimento da exigência legal pelo empreendedor, se o agente público responsável pela resposta possui carências? Como garantir que as ações previstas sejam efetivamente implementadas e de fato irão funcionar?
A partir dos aspectos discutidos, conclui-se que, atualmente, não existem respostas definitivas para estes questionamentos. Contudo, o início da jornada em busca de respostas plausíveis reside, inegavelmente, na articulação entre empreendedor e poder público, que pode exigir do primeiro uma conduta proativa.
Embora a partir da articulação seja possível suprir possíveis lacunas de informações em bases de dados consolidadas pelo empreendedor e definir, em linha gerais, possíveis ações de resposta, ainda são observadas, em entidades públicas, limitações importantes, de caráter organizacional e de infraestrutura, que têm potencial de interferir sobre a capacidade de resposta diante de emergência por parte destes agentes. Ademais, verifica-se ainda alguma imprecisão a respeito de responsabilidades específicas de órgãos componentes de um mesmo sistema, que porém se refiram a esferas distintas, além da necessidade de estabelecimento de protocolos que permitam resposta tempestiva e eficiente diante de condições emergenciais. O cenário se torna ainda mais complexo, quando para além de agentes públicos, deve-se considerar a necessidade do envolvimento de agentes privados, de outros setores.
A partir da articulação, o treinamento é o caminho a ser percorrido para a identificação de possíveis lacunas e implementação de melhorias no planejamento de resposta à emergência de barragem.
A superação das limitações apresentadas demanda um esforço conjunto e sistêmico, que extrapola o eixo empreendedor e poder público responsável, incorporando também o órgão fiscalizador, enquanto agente no processo que tem como responsabilidade definir, de forma plausível, orientações acerca de como o tema discutido deve ser detalhado, visando que as ações de resposta demandadas sejam executadas, em caso de necessidade, e surtam o efeito esperado.
5 – PALAVRAS-CHAVE
Gestão, emergência de barragem, requisitos legais, articulação, empreendedor e poder público.
6 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
[1] BRASIL (1988) – “Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988”, anais jurídicos da legislação brasileira, Direito Constitucional, v. 1, Brasília.
[2] BRASIL (2010) – “Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010: Estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens […]”, anais legislativos federais, Segurança de Barragens, v. 1, Brasília.
[3] BRASIL (2020) – “Lei nº 14.066, de 30 de setembro de 2020: Altera a Lei nº 12.334, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens”, anais legislativos federais, Segurança Hídrica e Gestão de Riscos, v. 1, Brasília.
[4] INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE) (2023) – “Pesquisa de Informações Básicas Municipais – MUNIC”, anais estatísticos de políticas públicas, Indicadores Municipais, v. 1, Brasil.
Maira REIS
Graduada em Engenharia Ambiental, em 2010, e Mestre em Engenharia Mineral, com ênfase em Geotecnia, em 2014, pela Universidade Federal de Ouro Preto, Maíra passou a compor o time da Pimenta de Ávila Consultoria em 2017. Desde então, teve oportunidade de desenvolver Planos de Ação de Emergência para Barragens de finalidades e setores distintos, suportando empreendedores na implantação e operacionalização dos planos e lidando diariamente com os desafios associados.